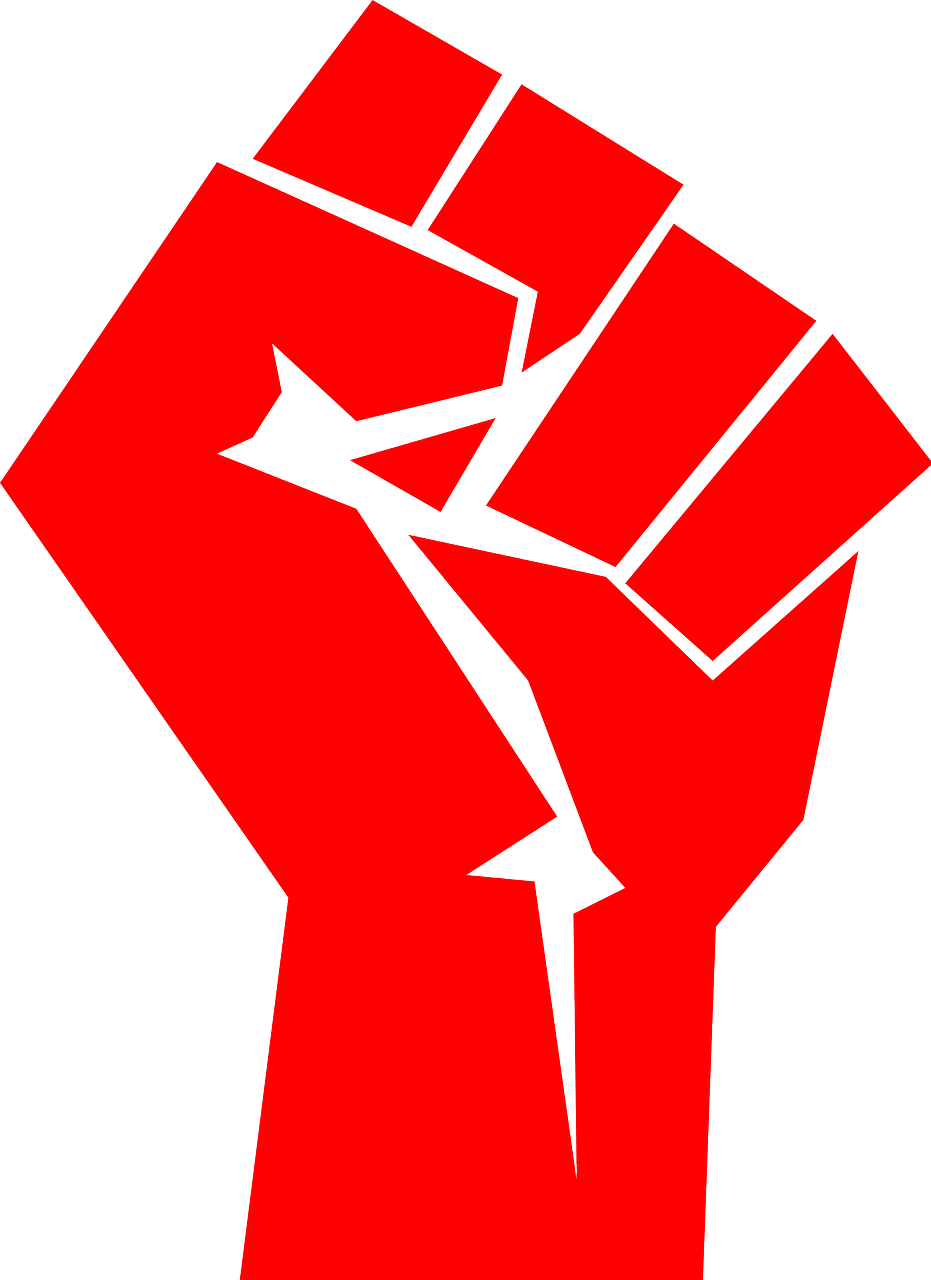Filósofo canadense explica como a verdadeira meritocracia se encontra na China
(Fonte: Brasil 247. O Canal Pororoca reconhece a autoria integral do autor sobre o texto abaixo)
O filósofo canadense Daniel Bell, professor da Universidade de Hong Kong e um dos principais intérpretes do pensamento político chinês, defende que a China é “um animal político diferente” e que seu sistema de governo não pode ser reduzido aos rótulos ocidentais de “ditadura” ou “autoritarismo”.
As declarações foram dadas em entrevista ao professor Glenn Diesen, em que ele discute o modelo de desenvolvimento chinês, a meritocracia política, o papel do Estado na economia e o lugar da China em um mundo em transição.
Logo no início da conversa, Bell provoca o senso comum dominante nas democracias liberais: “Existe um consenso muito dogmático de que, não importa o tamanho do governo, a cultura política, a história, as condições nacionais, há apenas uma maneira legítima de selecionar líderes. É uma ideia maluca”.
Ao longo de mais de 50 minutos, ele sustenta que a China combina eleições locais, experimentação institucional e um sistema de promoção por mérito nas altas esferas de governo, profundamente enraizado em uma tradição burocrática e filosófica de mais de dois milênios.
Democracia na base, meritocracia no topo
Bell propõe uma leitura em camadas do sistema político chinês. Na base, especialmente nas vilas, segundo ele, faz sentido recorrer a mecanismos eleitorais, porque as pessoas conhecem diretamente seus líderes e sabem “quem é corrupto, quem não é, quem é mais capaz e quem é menos capaz”.
À medida que se sobe na hierarquia, diz ele, a lógica muda. As decisões se tornam mais complexas e o eleitor comum simplesmente não dispõe de informação nem de formação para avaliar quem está mais preparado para decidir sobre temas como mudança climática, política energética, economia ou tecnologia.
É aí que entra o conceito que Bell sistematiza como “meritocracia política”:
“O sistema político deve visar selecionar e promover funcionários públicos com habilidade e virtude acima da média.”
Na prática, explica, isso significa décadas de experiência em diferentes níveis de governo, passagem por províncias pobres e ricas, atuação em empresas estatais e funções políticas, com avaliações constantes de desempenho e fiscalização contra corrupção. Quem se destaca, sobe.
Segundo Bell, o ideal que ele descreve — mais democracia na base, mais meritocracia no topo e experimentação no meio — não é uma invenção teórica, mas uma tentativa de organizar o que já funciona, ainda que de forma imperfeita, na realidade chinesa. Ele reconhece que há distância entre o ideal e o real, inclusive pela persistência da corrupção, mas defende que o critério de julgamento deveria partir da própria experiência chinesa, não de dogmas importados.
Confúcio, legalistas e o debate sobre poder e moral
Para fundamentar sua análise, Daniel Bell recorre à história intelectual da China, em especial ao período anterior à unificação sob o primeiro imperador Qin, há cerca de 2.200 anos.
Naquele momento, lembra ele, diferentes Estados competiam entre si, e filósofos — que hoje chamaríamos de intelectuais públicos — circulavam de corte em corte buscando persuadir governantes sobre o melhor caminho para governar. Foi ali que surgiram grandes tradições de pensamento: confucionistas, legalistas, moístas e taoistas.
Os legalistas, explica Bell, podem ser vistos como “ultra-realistas”. Para eles, o que importa é a acumulação e expansão do poder do Estado, livre de constrangimentos morais, usando o medo e a força militar para controlar a sociedade e vencer guerras. O sucesso político imediato dos legalistas permitiu a unificação, mas o regime durou pouco, apenas 15 anos, e colapsou sob o peso de sua própria brutalidade.
Os confucionistas, ao contrário, defendiam o que hoje se chamaria de “soft power”: liderança pelo exemplo moral, construção de rituais que unificam a sociedade, resolução pacífica de conflitos e valorização da educação. Embora tenham fracassado em seus próprios tempos — Confúcio e Mêncio não tiveram sucesso político direto — suas ideias foram retomadas pela dinastia Han e moldaram a cultura política chinesa por séculos.
Bell lembra que os debates entre realismo e idealismo, tão presentes na teoria das relações internacionais contemporânea, já apareciam de forma sofisticada na China de 2.000 anos atrás. Em um de seus livros, ele faz personagens clássicos “debaterem” questões atuais, como o uso da força contra Taiwan, justamente para mostrar a atualidade dessas ideias.
Harmonia não é uniformidade: diferença e coexistência
Um dos conceitos centrais que Bell procura esclarecer é o de “harmonia”, termo muito associado ao discurso diplomático chinês e frequentemente mal interpretado no Ocidente.
Ele observa que, em inglês, “harmony” costuma ser confundido com uniformidade ou conformismo, algo ameaçador quando proclamado por um governo. Mas o ideograma chinês mobilizado por Confúcio carrega um sentido diferente. Bell cita uma formulação clássica:
“As pessoas exemplares buscam diversidade e harmonia, em vez de mesmice ou conformidade.”
Para Bell, a ideia confucionista de harmonia parte do reconhecimento da pluralidade e até do conflito. A questão não é eliminar as diferenças, mas administrá-las de forma não violenta e, quando possível, produtiva — que o todo seja maior que a soma das partes.
Ele recorre a metáforas tradicionais: a harmonia é como uma sopa que precisa de ingredientes diferentes para ser saborosa, ou como uma música que só é bela quando combina vários sons, não uma nota única. Aplicado à política, isso implica que um bom líder precisa ouvir diferentes pontos de vista, em vez de se cercar apenas de quem pensa igual.
No plano internacional, sublinha Bell, a visão chinesa de harmonia se aproxima mais da “coexistência pacífica entre o que é diferente” do que de uma uniformização liberal sob um único modelo institucional.
Estado forte, combate à pobreza e desenvolvimento econômico
Bell também relaciona o “milagre econômico” das últimas quatro décadas a traços profundos da cultura política chinesa, especialmente à ideia de que o Estado tem obrigação moral de enfrentar a pobreza.
Essa noção, segundo ele, já está presente no confucionismo: se as pessoas lutam pelo próximo prato de comida, é irrealista esperar comportamento moral elevado. Primeiro, é preciso garantir condições materiais mínimas — inclusive por meio de reforma agrária, na tradição histórica — para depois cultivar virtudes e educação.
Ao longo da história, esse princípio se traduziu em políticas estatais voltadas para evitar a fome e reduzir a miséria, muito antes de o Ocidente formular a ideia de que o Estado tem deveres sociais. Essa continuidade, argumenta Bell, ajuda a explicar por que o socialismo “pegou” com força na China: sustentava-se sobre um solo cultural já preparado para aceitar que o Estado deve combater a pobreza.
Na China contemporânea, esse impulso histórico se combinou com:
- Um sistema de incentivos que premiava dirigentes locais por desempenho econômico e redução da pobreza.
- Um ambiente em que indivíduos e empresas podiam acumular renda e investir, sem medo permanente de expropriação arbitrária.
- Uma cultura de visão intergeracional, na qual famílias trabalham duro e poupam pensando nos filhos e netos.
Isso permitiu, inicialmente, um ciclo de crescimento baseado quase exclusivamente na expansão do PIB. Agora, porém, Bell destaca que o debate se sofisticou. A pauta passa a incluir redução da desigualdade entre ricos e pobres, sustentabilidade ambiental, reequilíbrio regional e qualidade de vida, o que torna o processo mais complexo, mas também mais maduro.
Industrialização, infraestrutura e bancos: paralelos com os EUA
Na entrevista, o interlocutor de Daniel Bell chama atenção para paralelos entre a estratégia de desenvolvimento chinesa e a dos Estados Unidos no século XIX, quando Alexander Hamilton defendia a necessidade de uma base industrial forte, infraestrutura física (rodovias, portos, ferrovias) e um sistema financeiro nacional para garantir independência frente ao Império Britânico.
Bell concorda que há semelhanças e cita trabalhos que sugerem até influências cruzadas históricas entre instituições chinesas e os “founding fathers” norte-americanos. Ele ressalta que a China, com seu sistema de empresas estatais e bancos de desenvolvimento, consegue muitas vezes pensar em horizontes de longo prazo, absorvendo perdas de curto prazo em projetos de infraestrutura que só se tornam rentáveis depois de 10 ou 15 anos — algo mais difícil em economias dominadas pelo capital financeiro de curto prazo.
Ao mesmo tempo, ele reconhece desafios internos: envelhecimento populacional, problemas fiscais em diferentes níveis de governo e um mercado de trabalho mais duro para jovens diplomados, que já não encontram empregos tão facilmente quanto há 10 ou 20 anos.
China, Belt and Road e o debate sobre “armadilhas da dívida”
Sobre a iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road), frequentemente apresentada em grandes veículos ocidentais como ferramenta de “coerção econômica” ou “diplomacia da armadilha da dívida”, Bell propõe uma leitura mais nuançada.
Ele lembra que a iniciativa também responde a um problema doméstico: o excesso de capacidade industrial na China e a necessidade de escoar produção, tecnologia e serviços de construção. O ponto decisivo, afirma, é saber se esses investimentos são estruturados como arranjos mutuamente benéficos — “win-win” — ou como dominação.
Na sua avaliação, a maior parte dos países envolvidos recebeu a iniciativa de forma positiva, por ver nela uma oportunidade de financiar infraestrutura que dificilmente seria bancável por mecanismos tradicionais. Ele reconhece que há casos em que a China foi percebida como poder agressivo, mas rejeita a narrativa de que o projeto se baseia essencialmente em armadilhas de dívida.
Outro elemento que diferencia a atuação externa chinesa, em sua visão, é a possibilidade de empresas estatais aceitarem prejuízos de curto prazo em troca de ganhos estratégicos de longo prazo, o que não elimina riscos, mas muda a lógica da decisão.
EUA, pressão externa e forças internas na China
Bell também comenta o impacto da pressão norte-americana sobre o ambiente político interno chinês. As tentativas de bloquear o avanço tecnológico da China, restringir o acesso a semicondutores e reorganizar cadeias produtivas globais têm, segundo ele, um efeito colateral perigoso: fortalecem as alas mais paranoicas do aparato de segurança chinês, em detrimento de setores mais reformistas e abertos.
Ele lembra que, quando a China ingressou na Organização Mundial do Comércio (OMC), reformas duras e dolorosas puderam ser justificadas internamente com o argumento de que “não é culpa nossa, entramos na OMC, temos que fazer isso”. Hoje, raciocínios semelhantes são usados pelo braço de segurança: os Estados Unidos estariam tentando sufocar a China, o que justificaria endurecimentos internos.
Para Bell, se Washington e aliados relaxassem sua postura de contenção e priorizassem cooperação em temas globais — clima, regulação da inteligência artificial, controle de armas nucleares, pandemias — isso daria mais espaço político para as forças reformistas na China ganharem terreno.
China quer hegemonia?
Um dos pontos mais sensíveis do debate é o futuro da China como possível potência hegemônica. Bell é categórico ao rejeitar a ideia de que Pequim queira exportar seu modelo de governo:
“Não há aspiração na China de exportar o seu sistema político, então isso não vai acontecer.”
Ele destaca que intelectuais e reformadores chineses veem o sistema político do país como profundamente contextual: produto de seu tamanho continental, de uma tradição burocrática milenar e de uma cultura política específica. Não faria sentido, diz ele, imaginar que esse modelo pudesse simplesmente ser transplantado para países como Ruanda ou Canadá.
O que a China deseja, argumenta, é ser reconhecida em suas fronteiras — incluindo Taiwan, na narrativa oficial — e ter estabilidade suficiente para continuar seu desenvolvimento. A projeção militar para além do que é considerado “China própria” é, em suas palavras, “quase inconcebível”.
Ao mesmo tempo, Bell vê espaço para cooperação militar e de segurança no futuro, caso os Estados Unidos mudem de postura. Ele imagina, por exemplo, cenários em que China e EUA poderiam realizar patrulhas conjuntas no Pacífico, se houver vontade política de ambos os lados.
Medos, racismos e a longa sombra do “perigo amarelo”
Bell relata ter ficado impressionado, em viagem recente à Austrália, com a persistência de um medo histórico: o de uma invasão chinesa. Ele lembra que, desde o século XIX, a sociedade australiana convive com o fantasma do “perigo amarelo”, visão que via a jovem colônia europeia cercada por “gigantes asiáticos” — uma combinação, segundo ele, de desinformação e racismo.
Ele nota que, apesar da crescente interdependência econômica entre Austrália e China, certos setores da política e da mídia continuam a operar com o imaginário de que Pequim estaria prestes a “vir buscar” o país, o que reforça a dependência de Canberra das bases militares e da proteção norte-americana.
Para Bell, esse tipo de medo impede um entendimento mais racional da China e afeta inclusive a academia, já que grandes universidades australianas quase não oferecem cadeiras de filosofia e pensamento político chinês, dificultando a compreensão de um país que será central na ordem mundial deste século.
Um futuro aberto, mas não indiferente
Ao final da entrevista, Daniel Bell mantém um otimismo cauteloso. Ele acredita que a China tem condições estruturais para evitar que grandes corporações ditem a política de Estado e para manter um horizonte de planejamento de longo prazo. Ao mesmo tempo, não descarta riscos internos nem externos.
Ele admite que a tentativa de Washington de “enfraquecer” a economia chinesa pode aumentar o pessimismo e a frustração dentro do país, sobretudo entre jovens diplomados, mas considera altamente improvável que isso leve a uma postura agressiva ou belicista contra os Estados Unidos.
Bell aposta que a combinação de uma cultura de longo prazo, um Estado forte com responsabilidade histórica sobre o bem-estar da população e uma tradição que valoriza a harmonia na diferença pode ajudar a China a evitar os caminhos de hegemonias anteriores que se destruíram pela incapacidade de se autolimitar.
Sem oferecer garantias, ele sugere que compreender esse “animal político diferente” exige abandonar dogmas fáceis, estudar sua história intelectual e levar a sério a possibilidade de que exista mais de um caminho legítimo para organizar a vida política em sociedades complexas — algo que o Ocidente, preso ao seu “consenso dogmático pós-Segunda Guerra Mundial”, ainda reluta em aceitar.